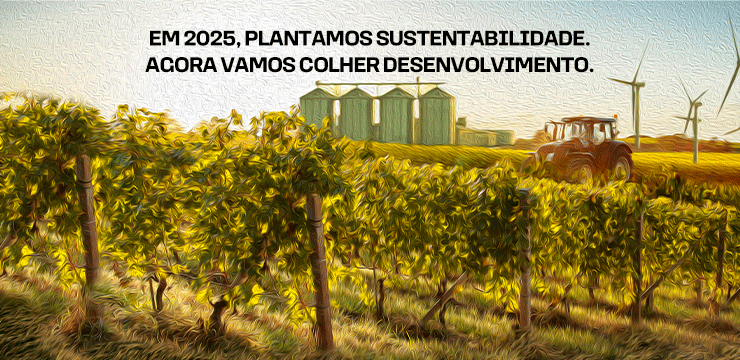Os povos indígenas da região Sul do Brasil chegam à COP30, em Belém do Pará, para cobrar a demarcação de seus territórios tradicionais como parte das políticas que podem desacelerar os efeitos da mudança do clima. “Ao demarcar terras indígenas, estamos também preservando a própria floresta. Porque a nossa cultura e modo de vida incluem a tradição de preservar”, explica Leonardo Werá Tupã, coordenador Tenondé da Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), de Santa Catarina.
A situação da demarcação das terras indígenas nos três estados sulistas é particularmente grave. O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) estima que somente 20% dos Guaranis do Rio Grande do Sul vivem hoje em território demarcado. Já entre os Kaingang, a etnia mais numerosa, são em torno de 50 áreas esperando demarcação.
Na sexta-feira (6), o presidente Lula incluiu a demarcação de terras indígenas como um instrumento de política climática em seu “chamado à ação”, uma carta enviada aos líderes mundiais às vésperas da conferência do clima. Lula pediu o “reconhecimento do papel dos territórios indígenas e comunidades tradicionais e das políticas de proteção como políticas de mitigação climática”.
No caso específico dos indígenas do Rio Grande do Sul, há preocupação extra com os efeitos das enchentes de maio de 2024, cujos impactos se deram sobre comunidades tradicionais que já viviam em áreas precárias.
Até a manhã desta segunda-feira (8), cerca de 500 indígenas brasileiros já haviam chegado à Aldeia COP, o espaço oficial do movimento indígena na COP30, onde a maior parte das delegações ficará hospedada, mas que também vai sediar debates sobre o futuro do planeta. Ao todo, são esperados 3 mil indígenas neste local, que fica a três quilômetros da área onde acontecem as negociações, a chamada Zona Azul.
Segundo a organização da Aldeia COP, estão pré-cadastradas no espaço 67 lideranças Kaingang, 89 Guarani e 14 Xokleng. A quarta etnia com presença no sul é a Charrua, que até a manhã desta segunda-feira, não havia submetido inscrições de representantes para a Aldeia COP, segundo o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) – ainda é possível registrar participantes.

“Não sabemos para onde vamos ir”
A reportagem conversou com lideranças Guarani, Kaingang e Xokleng, três das quatro principais etnias do sul do país, que participam da conferência da ONU sobre mudanças climáticas — e todos coincidem que o reconhecimento dos territórios é o tema principal de demanda.
“Eles vivem à margem, em condições precárias, em áreas pequenas à beira de estradas”, diz o advogado Roberto Liebgott, do Conselho Indigenista Missionário (Cimi).
Para o Ministério Público Federal (MPF-RS), a falta de reconhecimento dos territórios é a principal causa de vulnerabilidade das aldeias. “Os processos duram décadas e deixam comunidades sujeitas à pressão de fazendas, empreendimentos e de desastres climáticos”, afirma o procurador Ricardo Gralha.
Da aldeia Guavira Tupã, em Santa Maria, Germânia Kerexu, articuladora das mulheres da CGY, viaja pela primeira vez a uma COP. Professora da pré-escola e estudante de Licenciatura Intercultural Mbya Guarani na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), ela vive com cerca de cem pessoas em uma área de 77 hectares emprestada pelo estado do Rio Grande do Sul.
“A demarcação é essencial para garantir nossa segurança e nosso futuro, pois da forma como estamos, quando o tempo do empréstimo acabar, não sabemos para onde vamos ir”, explica.
Outro caso emblemático é o da aldeia Tekoa Pekuruty, em Eldorado do Sul, às margens da BR-290. Ali, os Mbyá Guarani tiveram as casas destruídas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) enquanto se refugiavam das enchentes de 2024.
Em janeiro, a Justiça Federal concedeu decisão liminar que obriga o DNIT a avançar no processo de aquisição de uma nova área destinada à reconstrução da aldeia. Na semana passada, a juíza da ação realizou inspeção judicial na comunidade.
No Rio Grande do Sul, há 62 comunidades Guarani com mais de 4 mil pessoas em 36 municípios gaúchos. Muitas estão em áreas sem acesso à água potável, vivem em moradias precárias e com serviços de saúde improvisados. “A demarcação é uma política estruturante. Sem ela, o Estado se nega a investir em escolas e postos de saúde sob o argumento de que não se pode aplicar recursos públicos em áreas não regularizadas”, explica o procurador Ricardo Gralha.
Ele também cita ameaças recentes, como a proposta de instalação de uma fábrica de celulose em Barra do Ribeiro, em meio a sete aldeias, a construção de um complexo de data centers em Eldorado do Sul e plantações de eucalipto, que reduzem o lençol freático e acidificam o solo, tornando-o impróprio para o cultivo.
Demarcação Xokleng pode definir futuro indígena
Para os Xokleng, de Santa Catarina, o foco está na Terra Indígena La-klãnõ, no Vale do Itajaí, processo que se tornou referência nacional ao levar ao Supremo Tribunal Federal (STF) a discussão sobre o marco temporal. A área tem 14 mil hectares reconhecidos, mas o povo reivindica mais 23 mil retirados em 1952. Em setembro de 2023, o STF decidiu que o direito dos povos indígenas à terra não pode ser limitado à ocupação em 1988. No fim do mesmo ano, porém, o Congresso aprovou a Lei nº 14.701/2023, que restabelece o marco temporal e impõe novas restrições à demarcação. A matéria está novamente em discussão no STF.
“Esse caso é representativo para o Brasil inteiro”, afirma Brasílio Pripra, liderança Xokleng. “A demarcação da nossa terra pode definir o futuro de mais de 500 territórios indígenas no país", defende Pripra.
No Paraná, a situação das aldeias Avá Guarani do oeste do Paraná, impactadas pela produção de soja e disputas de terra, será levada ao Tribunal dos Povos, durante a conferência.
Mulheres indígenas querem acesso a financiamento
A Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (AnMiga) também chega à COP com uma agenda ampla, com foco nos fundos financeiros para quem protege a floresta. A organização estará na Cúpula das Mulheres Indígenas nos dias 12 e 13 de novembro, no Museu Emílio Goeldi. A organização pretende levar 30 lideranças para Belém.
A AnMiga montará na Aldeia COP a “Casa Ancestral”, espaço de rezas, cantos e rodas de conversa sobre espiritualidade e justiça climática. “Queremos mostrar que as mulheres indígenas são protagonistas das soluções climáticas”, diz Jozileia Kaingang, diretora executiva da organização nascida na Terra Indígena do Guarita, em Tenente Portela (RS).
“Somos apenas 5% da população mundial, mas protegemos mais de 83% da biodiversidade do planeta”, complementa.
Além da Zona Azul
O Ministério dos Povos Indígenas estima que 1.000 lideranças estarão credenciadas para a Zona Azul, a área restrita das negociações oficiais, e espera que a COP 30 seja a conferência com maior presença indígena da história.
Apesar disso, o espaço ainda é um desafio, já que envolve uma série de burocracias. Lideranças relataram dificuldades em conseguir as credenciais, uma vez que a UNFCCC, órgão da ONU que trata das mudanças climáticas, exige um passaporte como documento de identidade, mesmo o evento sendo realizado no Brasil.
A Zona Verde, mais democrática, tem livre acesso e ampla participação da sociedade civil. Paralelos aos espaços oficiais, ainda vão ocorrer a Aldeia COP, a Cúpula dos Povos e a COP do Povo. Instalada na Universidade Federal do Pará (UFPA), a expectativa é que a Aldeia COP receba cerca de 3 mil indígenas do Brasil e do mundo.