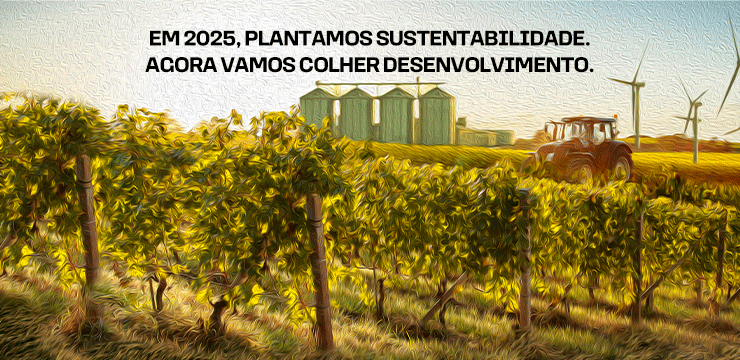Com quase vinte anos de atraso, mas ainda a tempo, o trabalho de Ulisses Gorini sobre a mães que enfrentaram os horrores da ditadura argentina chega ao Brasil pela Editora Coragem. Gorini é um dos autores com presença confirmada na edição de 2025 na Feira do Livro de Porto Alegre, onde lança oficialmente a obra no domingo (9/11), às 14h, no Clube do Comércio, e autografa os dois volumes às 15h, na Praça da Alfândega.
Os livros do autor argentino, conforme sua própria análise, conta a história de mulheres que "converteram o desaparecimento em presença, o medo em solidariedade e a derrota em possibilidade concreta de empreender novos caminhos em direção à vitória". Leia abaixo a entrevista do professor Luís Augusto Fischer com o escritor. As respostas foram traduzidas por Thomás Daniel Vieira.
Luís Augusto Fischer – Na apresentação do livro, Osvaldo Bayer celebra a “vitória da poesia” sobre o poder. É assim mesmo? Qual é a sua sensação geral sobre o processo que o teu livro apresenta – é ou foi uma vitória?
Ulisses Gorini – Nos processos sociais, em particular nas lutas políticas e sociais, não existem termos absolutos. Entre a vitória e a derrota costuma haver uma infinidade de matizes. Embora a última ditadura na Argentina (1976 – 1983) tenha constituído um duríssimo golpe contra o campo popular, nem tudo foi perda ou derrota. No caso concreto, o surgimento do movimento social e político das Mães da Praça de Maio foi um dos primeiros passos de uma resistência que determinou, em última instância, não só a derrota da ditadura, mas também a forma como a etapa pós-ditatorial transcorreria. No universo conceitual de Osvaldo Bayer, poesia não se refere, obviamente, à arte estritamente literária, mas sim à potência criadora da ação política das Mães, que fez aparecer a verdade em face da negação. A mobilização, a palavra pública e o lenço das Mães desativaram, expuseram e, finalmente, deslegitimaram a violência do inimigo. A poesia à qual ele se refere, portanto, é a criação de símbolos, palavras e práticas políticas que desarmaram um regime de sentido hegemônico que parecia invencível e que, no entanto, acabou por fracassar: converteram o desaparecimento em presença, o medo em solidariedade e a derrota em possibilidade concreta de empreender novos caminhos em direção à vitória.
Luís Augusto Fischer – Passados quase vinte anos da primeira edição do primeiro tomo na Argentina (2006), qual é a sua sensação: o livro se mantém vivo como antes? Ou algo deveria ser mudado, no seu método de busca de informação ou na redação do texto?
Ulisses Gorini – É sempre difícil falar da própria obra. Com o passar do tempo e as novas experiências, eu mudaria inevitavelmente muitas questões. No entanto, nada disso mudaria as teses centrais de A Rebelião das Mães, que, na minha opinião, se mantêm plenamente vigentes. Eu diria que elas não só resistiram ao debate político, ideológico e acadêmico, como também se viram validadas pelo curso dos acontecimentos políticos, e a maior parte das pesquisas acadêmicas e históricas as tomaram como ponto de partida. A maternidade como categoria política, a denúncia como forma de ação política, a memória como resistência, a dimensão ética e simbólica do testemunho, são algumas das questões centrais que a história das Mães levantou e que, na conjuntura atual, tanto regional quanto mundial, se mostram cada vez mais significativas.
Luís Augusto Fischer – Qual tem sido a repercussão do livro na Argentina? E em outros países? Algo notável pode ser verificado quanto às diferenças entre o leitor local e os de fora?
Ulisses Gorini – Na Argentina, a recepção se vinculou inevitavelmente à luta política, social e cultural que dominou toda a etapa pós-ditatorial. O livro teve numerosas reedições e creio que cumpriu um papel importante em desmistificar a função cumprida pelas Mães na política argentina. Como expus no meu livro, tentou-se explicar o fenômeno deste movimento feminino como se falasse de uma lei da natureza: a maternidade, inevitavelmente, teria conduzido estas mulheres a encarar uma luta que só a condição de mães tornaria possível. Mentira. Não foi assim. A maioria das mães de desaparecidos não saiu para lutar como o fizeram as Mães da Praça de Maio, mas sim, enquadradas por concepções de maternidade e de mulher que respondiam à ideologia dominante, viram-se impossibilitadas de travar essa luta. O fenômeno das Mães implicou uma politização da maternidade que pôs em questão essas representações e práticas dominantes. Por outro lado, havia um uso hipócrita do tema da maternidade que servia para desculpar aqueles que não se juntaram à resistência à ditadura, argumentando que só a partir dessa condição era possível lutar. Se as Mães da Praça de Maio ocuparam um vazio político é porque houve cumplicidade e claudicação frente à ditadura de numerosos setores políticos e, em todo caso, a resposta política das Mães veio a desnudar essas cumplicidades e claudicações.
No exterior, a recepção teve conotações distintas. Além das limitações na difusão, creio que a leitura teve a ver com o interesse pelo fenômeno e a repercussão internacional das Mães e com a relação estabelecida com as lutas e os interesses culturais de cada país. Creio que esta tradução para o português ampliará as possibilidades do diálogo que já começou com a edição em castelhano, e será uma oportunidade para um intercâmbio maior.
Luís Augusto Fischer – Como é ser o autor de um livro tão original e marcante — senão na forma narrativa, jornalística e, ao mesmo tempo, historiadora, ao menos no tema — no presente do país, com um governo negacionista dos horrores da ditadura, lamentavelmente tão semelhante ao nosso ex-presidente aqui no Brasil?
Ulisses Gorini – Não é diferente da situação dos milhares de argentinos que resistimos a este embate do neofascismo, que veio não só a negar, mas inclusive a legitimar o genocídio ocorrido na segunda metade do século XX na Argentina, o qual, lamentavelmente, não é um fenômeno puramente argentino, nem sequer regional, mas sim mundial. Há uma crise profunda do modelo de dominação capitalista que faz com que os setores tradicionais que mantêm o poder recorram a essa forma extrema da política burguesa. Entretanto, creio que os últimos revezes dos setores da extrema-direita na Argentina mostram possibilidades concretas de derrotá-los.
Luís Augusto Fischer – Uma pergunta pessoal: como foi a tua experiência individual do período, de ter vivido como jovem adulto a instalação, o auge e a derrubada do regime militar? Tiveste relação com as Mães desde o início? Como te aproximaste do grupo?
Ulisses Gorini – Foi, sem dúvida, o período mais difícil da minha vida. Embora eu fosse muito jovem (tinha 20 anos quando do golpe de Estado), como militante político estava na mira da ditadura, assim como milhões de argentinos estiveram. No início foi muito duro. Mas, pouco a pouco, foi-se abrindo espaço para a resistência. Aproximei-me das Mães com uma enorme emoção e curiosidade. Sem dúvida, minha pesquisa mudou enormemente a ideia original que eu tinha sobre elas e penso que contribuiu para essa desmistificação da qual falei anteriormente. Uma desmistificação que não tem nada a ver com menosprezar o valor da resistência, mas sim, pelo contrário, compreender a sua essência para compreender melhor a realidade do meu país e poder transformá-la.
Luís Augusto Fischer – Vendo a coisa toda de longe (ainda que nada esteja concluído no movimento das Mães até hoje), o que te parece a dinâmica entre luta individual e luta coletiva? Ao escrever, foi fácil transitar do plano individual de uma mãe específica para a dimensão coletiva?
Ulisses Gorini – É sempre difícil iniciar uma pesquisa a contrapelo da história oficial. Entretanto, contei com o apoio e a assistência de importantes intelectuais e acadêmicos que me ajudaram a conformar um referencial teórico e as hipóteses centrais do meu trabalho. Assim surgiu o principal questionamento que tentei responder: O que estava acontecendo na Argentina para que uma arma política como o desaparecimento forçado de pessoas, com um alvo político — as forças revolucionárias —, e com um objetivo político — a consolidação de uma estrutura social regressiva —, tivesse sido respondida, em primeiro lugar, por um movimento de mulheres, fundado nas relações familiares, antes que pelo mundo da política? O individual se inscrevia nesse processo. O coletivo se explicava por esse fenômeno tão singular. Precisamente, o referencial teórico permitia ver como a dinâmica individual conduziu ao coletivo, e vice-versa, em um processo dialético. Por exemplo, aqui foi necessário aplicar ferramentas de análise fornecidas pela psicologia social. O referencial teórico implicou uma conjunção de recursos multidisciplinares das ciências sociais.
Luís Augusto Fischer – Houve algum momento, no teu trabalho de pesquisa, de entrevistas, de busca de informação, no qual a emoção subjetiva, individual, do jornalista, emergiu à superfície de modo irrefutável? Pode relatar algum exemplo?
Ulisses Gorini – Parece-me impossível empreender esta investigação sem se sentir comovido pela epopeia individual e coletiva destas mulheres. Não gosto de pessoalizar demais a minha resposta porque creio que isso aconteceu com a maioria dos pesquisadores que abordaram esta história em geral ou em particular. A tragédia da perda dos filhos, a busca na maioria das vezes infrutífera, a dor permanente de uma incerteza sem fim, a enorme desproporção das forças que enfrentaram, a sua capacidade de renascer das cinzas, a sua energia para se recuperar do golpe, a clareza com que souberam encabeçar uma luta que ainda hoje não termina, não pode senão comover até o mais profundo da nossa subjetividade. Foi um trabalho muito duro, mas se consegui terminá-lo foi, em primeiro lugar, inspirando-me na energia que elas demonstraram. Se alguma vez eu duvidava da minha possibilidade de terminar esta história, eu recordava uma consigna que elas adotaram e tiraram de Ernesto Che Guevara: “A única luta que se perde é a que se abandona”.