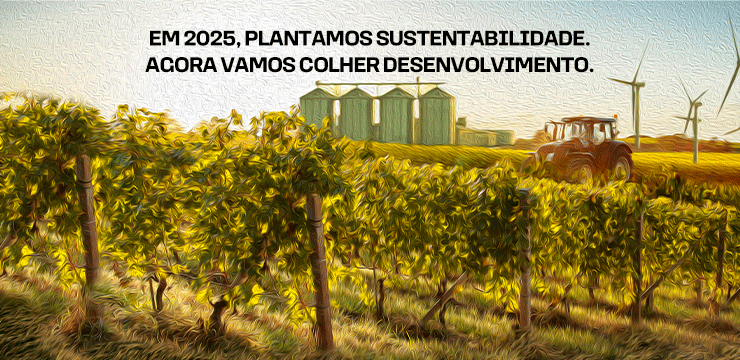Medeia, a tragédia de Eurípides, reencarnou em Gota d’água, de Chico Buarque e Paulo Pontes. A primeira veio a público no ano 431 a.C.; a segunda, em 1975, inspirada numa adaptação feita em 1972, num “caso especial” para a televisão brasileira, por Oduvaldo Vianna Filho, que veio a falecer em 1974. Não será pouco motivo para a dedicatória feita a ele pelos autores dessa grande peça.
A primeira das encarnações tinha a famosa Medeia como personagem central: filha de um rei, tinha ajudado Jasão a conquistar o famoso “tosão de ouro”, com o qual ele poderia recuperar o reino de seu pai – Jasão liderou a famosa viagem dos Argonautas. (Para maiores esclarecimentos, por favor se dê um presente: ouvir o podcast “Noites gregas”, de Cláudio Moreno, editado por Felipe Speck, episódios 42, 43 e 44. São sempre episódios de 30 a 40 minutos, que se ouve com alegria e inteligência.) Depois de ter feito esse favor a Jasão, Medeia resolve abandonar a terra paterna para continuar com ele. Há uma série de incidentes no percurso, em que ela chega a perpetrar crimes hediondos em favor do amor dos dois; finalmente eles de fato vão viver juntos por muitos anos, tendo dois filhos.
Depois dessa longa convivência, Jasão resolve fazer a corte a uma nova mulher, mais jovem, filha de outro rei, Creonte, uma mulher que lhe traria poder e status se se casassem. Ele comunica a Medeia esse propósito, argumentando que vai ser bom para todos, a começar pelos filhos que tinham, porque então eles teriam poder e grana; Jasão quer que Medeia entenda que até para ela era melhor. Mas ela, já com uma certa idade (er amais velha que ele) e computando uma série de sacrifícios em favor dessa união, se desespera e, em transe homicida, mata os filhos, para atingir Jasão. (Esta é a versão de Eurípides, com final trágico elevado à enésima potência, uma mãe matar seus filhos para se vingar do pai deles.)
Algo dessa narrativa aparecerá em Gota d’água – Medeia será Joana, casada com Jasão, dois filhos igualmente, porém ele vai casar com outra, mais nova e mais rica –, mas com adaptações importantes – em lugar de conquistar algo como o tosão de ouro, o Jasão brasileiro conquista o sucesso como sambista, com apoio decisivo de Joana, que uma vez posta para escanteio vai se vingar.
Para Chico, era a terceira experiência direta com teatro, depois de Roda vida (1967) e Calabar (1973), sem contar a experiência zero, de que ele participou lateralmente, a montagem de Morte e vida severina (1965). Nas peças de 67 e 73, Chico foi autor ou coautor, além de compor as canções da trilha sonora – canções que nasceram a serviço de um enredo mas que, em grande parte, se eternizaram por fazerem sentido muito além disso.
Em Gota d’água teremos coisa parecida, neste campo. Quatro das canções da peça (há outras duas) passaram para o repertório do autor: “Gota d’água” propriamente dita, “Flor da idade” e “Bem querer”, gravadas no LP publicado em 75, mais “Basta um dia”, que saiu no LP de 76, Caros amigos.
Mas a qualidade dramatúrgica da peça de 1975 não se compara com as demais: pensando apenas nos textos (não nas realizações sob direção real, os atores escolhidos, etc.), em Roda viva havia um tema forte e original mas uma dramaturgia frouxa, que apostava em soluções debochadas, meio “living theater”, com alma hippie; em Calabar havia uma grande pesquisa historiográfica, um forte vetor crítico dirigido ao presente, mas uma estrutura confusa, da qual emerge uma e apenas uma grande personagem dramática, Bárbara, sendo os demais (com exceção parcial de Ana de Amsterdã) quase que só suportes para discursos, não personagens de fato.
Em Gota d’água, ao menos três fatores pesaram a favor de uma estrutura dramática de excelência. Um, a existência de uma tragédia sublime na base, com mais de vinte séculos de vida; dois, a primeira adaptação para um caso especial na televisão, pela mão de um dramaturgo jovem mas já provado, Oduvaldo Vianna Filho; e três, a parceria de Chico com outro jovem dramaturgo de qualidade já demonstrada, Paulo Pontes.
Paulo Pontes nasceu Vicente de Paula Holanda Pontes, em Campina Grande Paraíba, em 1940. Autodidata, filho de classe média baixa, na juventude se envolveu com teatro e com militância de educação popular, na Paraíba ainda, no mesmo contexto em que a ação de Paulo Freire se desenvolveu em Pernambuco. Trabalhou como locutor de rádio e escreveu textos de humor. Em 62, conheceu Oduvaldo Vianna Filho, que pelo CPC (o famoso Centro de Cultura Popular patrocinado pela então União Nacional dos Estudantes, a UNE) foi a João Pessoa.
Em março de 64, para participar do CPC, Paulo Pontes desceu para o Rio. Veio no entanto o Golpe, e ele escreve, com Vianinha, Armando Costa e Ferreira Gullar, o roteiro para o show Opinião, que pôs em cena João do Vale, Zé Keti e Nara Leão, representando o camponês, o proletário urbano e a classe média, respectivamente. Já aqui a ideia era postular a aliança entre o povo e os setores médios letrados, para enfrentar o autoritarismo e, mais ainda, para pensar numa sociedade inclusiva, como se diz hoje em dia.
Em 67 o grupo Opinião entre em crise, e Paulo retorna à Paraíba, mas por pouco tempo: a TV Tupi o convida para escrever e produzir programas de humor. Nesse caminho se destaca a sitcom “A grande família”, de cuja equipe fez parte, sob a liderança inicial de Vianinha. Escreve peças para teatro de grande impacto, como “Brasileiro, profissão esperança”, profundamente ligado ao universo da música popular (o enredo se baseia nas trajetórias de Antônio Maria e Dolores Duran) e, com José Renato, “Um edifício chamado 200”, peça que virou filme de 1974, em que um jovem carioca vive uma vida de aparências de riqueza, sendo um pelado. Em 75, então, escreve, com Chico Buarque, seu maior sucesso, a peça Gota d’água.
Os traços formais do texto mostram o alto nível de realização.
A estrutura dramatúrgica da peça é de alta qualidade, considerado o parâmetro clássico de encenação. As personagens são bem estruturadas, o desenho dos sets do cenário é imediatamente compreensível, as indicações de encenação presentes nas rubricas são também claras, a dinâmica entre diálogos tensos e cenas de grupos de personagens, estes fazendo o papel do coro da antiga tragédia, imprime a velocidade adequada ao curso da história, a curva dramática é perfeita. Tudo muito longe de Roda viva, que tem uma série de cenas e passagens obscuras que dependem fortemente das escolhas do diretor.
O texto é todo em versos de tamanho regular, com variações de metro em momentos significativos – mudança de cena ou de falante. A rima é empregada de modo parcial, e os efeitos sonoros de ecos, aliterações e assonâncias são abundantes.
São dois atos, cada qual dividido em muitas cenas. A peça se passa quase toda em um conjunto habitacional popular, num bairro carioca. Há quatro espaços no cenário. Um é ocupado pelas vizinhas (cinco mulheres); outro representa o botequim, lugar de socialidade, com homens; um terceiro é a oficina do velho Egeu – oficina de conserto de rádios, o que implica todo um contexto de época. O quarto set é menos utilizado: é o lugar em que impera Creonte, com sua filha Alma, onde aparece Jasão.
As canções que entram em cena em sua maioria sobreviveram à peça e se converteram em clássicos buarquianos.
O enredo: de saída aparece o sucesso do samba-canção “Gota d’água”, de autoria de Jasão de Oliveira. Toca no rádio, está na boca do povo. (Hoje, esse prenome, Jasão, não seria mais escrito assim e poderia ser grafado de maneiras variadas – provavelmente vindos do inglês, Jason, até Diêison ou coisa mais estranha ainda.) Ficamos sabendo que Jasão deve sua carreira a Joana, a reencarnação da Medeia da tragédia antiga. Trechos do samba serão cantados aqui e ali.
Mas um incômodo logo entra no zunzum das vizinhas: Jasão está abandonando Joana por Alma, a jovem filha de Creonte, este o proprietário construtor do conjunto habitacional, a quem muitos devem prestações – não se fala muito disso, mas os juros e a inflação aumentam o valor a cada mês, tornando difícil e mesmo impossível o pagamento. Alguns moradores fazem contas de tipo estático – somam os valores nominais que já pagaram e concluem que já superaram o valor nominal do apartamento.
Esse polo da tensão narrativa é simbolizado por Egeu, que começa a falar num boicote dos pagamentos. Em termos de posição sociológica, Egeu é o artesão orgulhoso de sua virtuosidade técnica, que lhe confere certa autonomia em relação ao mando de Creonte.
Vista de agora, a história é bem conhecida: era o começo da inflação resultante do endividamento do Brasil com bancos internacionais, a forma de custear o Milagre Brasileiro, que em 1975 estava já na curva descendente. Abria-se ali a era do capital financeiro, da hegemonia dos bancos. Essa percepção está explicitada na nota introdutória, assinada pelos dois autores, toda ela em termos fortes para o momento. Termos do marxismo corrente nas ciências sociais da época, que são agora redutores mas proporcionaram na época uma análise nítida, distribuindo o momento histórico em elites, classes subalternas, pequena burguesia, cada qual com algum sonho e alguns embaraços. São termos que dão a ver a consciência da mudança em curso: “O disco, o livro, o filme, a dramaturgia, começam a ser produtos industriais”, dizem os autores. Era, no fim das contas, o mesmo tema de Roda viva, mas em outro momento, de maior maturidade do processo e dos artistas envolvidos.
Alma, fazendo a noivinha feliz, conversa com Jasão e repassa as comodidades que terão, como novo casal, na casa aparelhada pelo pai, Creonte: vidros fumê, lambri de madeira, elevador forrado de veludo, sinteco... A suíte dá vista para o mar! Todos os eletrodomésticos desejados já estão ali: gravador e aspirador, enceradeira e geladeira, televisão a cores e ar condicionado. Todo um panorama da modernidade de consumo da classe média desfila aqui.
O sogro Creonte elogia o genro Jasão (se refere a ele como Noel Rosa!) mas deixa claro que sabe que uma carreira de sambista, por talentoso que seja, não é suficiente nem para custear a vida de sua filha, com quem ele vai casar, nem mesmo para fazer circular com força adequada o samba – que dirá para ter destaque na sociedade, para ser um empreendedor de fato. Creonte esclarece, debochado, que está pagando para que o samba toque nas rádios, o conhecido jabá.
Jasão é então confrontado com suas limitações sociais por Creonte, que diabolicamente tenta o sambista com a herança que vai deixar para sua filha e, no fim das contas, para ele próprio, Jasão. E daqui nasce uma ordem do futuro sogro para o genro: Jasão tem que demover o velho Egeu de insuflar os devedores. Jasão é compadre de Egeu: seus dois filhos com Joana são cuidados por Egeu e sua Corina.
Jasão avalia as dificuldades que terá, com Egeu e com Joana, que é “dada a macumba”, nisso sendo uma legítima Medeia, que era mesmo feiticeira. Creonte sabe da existência de Joana e dos dois filhos, não se importa com isso; mas sabe que precisa tirá-la de cena, de algo modo.
Joana finalmente entra em cena e imediatamente dá mostras de ser uma personagem complexa, uma nova Bárbara, uma das tantas grandes personagens femininas da obra cancional de Chico. E em sua primeira fala já alude à hipótese de preservar a inocência dos dois filhos, poupá-los da decepção com o pai, o que acontecerá mas ao custo de matá-los.
Egeu tenta conscientizar Jasão, quando este vai até ele com o recado de Creonte para parar com as ideias de boicote ao pagamento. Jasão sugere que ele, casando com a filha do dono da coisa toda, poderá ajudar o pessoal do conjunto na questão das prestações, justamente porque vai casar com Alma e poder assim ajudar “por dentro”. Aqui, no contexto da época, a peça expunha a lógica dos que aderiam ao “sistema”, os que se arrependiam de ter defendido o enfrentamento ao governo militar, com a desculpa de transformá-lo de dentro para fora.
Um detalhe não desprezível na sociologia do enredo, embora não resulte em nenhum desdobramento relevante na sucessão das cenas, é que Egeu lembra, no diálogo, que ensinou Jasão a consertar rádios, o que significa que legou a ele o seu melhor, a sua capacidade artesã, capacidade que o livra da miséria e, como dito acima, lhe confere certa autonomia social.
Numa cena secundária, que ocorre no set do botequim, alude-se a futebol e a samba como alegrias imediatas dos moradores do conjunto; neste momento todos cantam a belíssima “Flor da idade”, que muitos pensam que se chama “Quadrilha”, o poema drummondiano citado ao final. A canção foi lançada no disco de Chico com Maria Bethânia, de 74. Na letra, fala-se na Vila do Meio-Dia, que é o nome ficcional do conjunto em que se passa a cena. O virtuosismo poético dá água na boca: basta ver a estrutura das estrofes, tramadas sobre uma valsa cheia de energia, num ritmo que impõe divisões prosódicas alteradas em relação à fala comum. A letra vai posta aqui em paralelo que torna mais nítida a qualidade:
A gente faz hora, faz fila / na Vila do Meio-Dia / pra ver Maria
A gente almoça e só se coça / e se roça e se vicia
A porta dela não tem tramela / a janela é sem gelosia / nem desconfia
- Ai, a primeira festa / a primeira fresta / o primeiro amor
Na hora certa, a casa aberta / o pijama aberto, a braguilha / armadilha
A mesa posta de peixe / deixa um cheirinho da sua filha
Ela vive parada no sucesso / do rádio de pilha / que maravilha
- Ai, o primeiro copo / o primeiro corpo / o primeiro amor
Vê passar ela, como dança / balança, avança e recua / a gente sua
A roupa suja da cuja / se lava no meio da rua
Despudorada, dada / à danada agrada andar seminua / e continua
- Ai, a primeira dama / o primeiro drama / o primeiro amor
Rimas internas, aliterações, trocadilhos, imagens próprias para a cena, e cada estrofe convergindo para a mesma ideia do “primeiro amor”.
Logo adiante, volta à cena Joana, e canta “Meu bem querer”, outra pérola lírica que aqui cumpre função narrativa mais ajustada ainda ao conteúdo da tragédia. A letra alterna uma estrofe falando, em primeira pessoa, do “meu bem-querer”, e outra em que a pessoa amada é referida como “seu bem-querer”. Nessa diferença vai toda uma sutileza entre primeira e terceira pessoa. A estrofe ímpar, marcada pelo “meu”, é otimista em relação ao que vai acontecer quando o bem-querer chegar; a estrofe par, marcada pelo “seu”, imagina o pior.
Do otimismo das estrofes ímpares – que começa com a voz narrativa imaginando a chegada de seu bem-querer, momento em que ele vai com certeza acompanhar a amada – passamos ao pessimismo macabro das estrofes ímpares, que chega ao fim com uma ameaça de morte:
E quando o seu bem-querer dormir
Tome conta que ele sonhe em paz
Como alguém que lhe apagasse a luz
Vedasse a porta e abrisse o gás.
Mal Joana acaba de cantar essa peça de aguda contradição, entra em cena Jasão, na cena que vai encerrar o primeiro ato. Um diálogo de qualidade maiúscula, com sedução, negaceio, amor contrariado, desprezo, ressentimento e outras emoções muito matizadas se sucedem. Chega o ponto em que ele vai alegar a idade dela como motivo para a separação – ele vai ainda chegar aos 30, ela tem já 44. Ela lembra que ele era um imaturo quando ela o acolheu e o orientou. Ele mostra toda sua vileza, ela expõe o desespero da mulher e mãe rejeitada. A cena é de altíssima energia dramática.
Fim do primeiro ato.
Dada a qualidade narrativa do primeiro ato, do segundo só cabe esperar os desdobramentos da trama e o desfecho da tragédia insinuada. E não esperamos muito.
Joana logo começa a fazer trabalhos contra Jasão, Creonte e Alma, invocando entidades de tudo que é dimensão e origem. Alma em seguida começa a sentir os efeitos dessa ação. Em paralelo, avança o enredo social da peça, o tema dos atrasos de pagamentos dos apartamentos, contra a cobrança que Creonte quer realizar sem piedade.
Jasão deseja de algum modo conciliar os interesses do sogro com os da comunidade, o seu pessoal. Quer que Creonte faça benfeitorias, que ajude o pessoal a se divertir com futebol; quer que o sogro alivie a barra dos devedores. E Creonte aceita a ideia – mas exige que Joana saia do conjunto.
Outro diálogo entre Jasão e Joana vai ocupar uma dúzia de brilhantes páginas, em forma e fundo, em palavras e lances dramáticos. Enquanto isso, Egeu quer a resistência de todos, rejeitando a esmola oferecida: quer discutir “o sistema de pagamento”; ele tem uma visão do conjunto, da estrutura de subordinação dos devedores. Mas fica sozinha nessa posição: a maioria aceita de muito bom grado a oferta de perdão das dívidas, feita por Creonte numa visita de todos ao poderoso proprietário.
Estamos chegando ao desfecho. Ocorre a festa de casamento de Jasão e Alma. Joana envia os filhos lá, com um pacote de presente – um bolo envenenado. Creonte desconfia da trama e expulsa os meninos, mesmo com Jasão tentando defender a presença deles ali.
Eles voltam para perto da mãe; ela desfaz o pacote enquanto conversa com as entidades que invocara, perguntando por que não conseguiu ter alívio para suas dores. Os meninos se aproximam e dizem estar com fome; ela serve do bolo e anuncia a eles:
Chegou a hora
de descansar. Fiquem perto de mim
que nós três, juntinhos, vamos embora
prum lugar que parece que é assim:
é um campo muito macio e suave,
tem jogo de bola e confeitaria.
Tem circo, música e muita ave
e tem aniversário todo dia.
Lá ninguém briga, lá ninguém espera,
ninguém empurra ninguém (...).
Ela dá bolo e guaraná para os dois, e em seguida come ela também um pedaço. Os três caem ao chão – e a luz da cena ilumina a festa do casamento, “onde todos, com a maior alegria, cantam “Gota d’água””. Corina, a amiga de Joana, grita desesperada ao ver os três mortos, enquanto Creonte, em seu set, entroniza Jasão como seu sucessor.
Nisso entra Egeu carregando o corpo de Joana, e Corina carregando os corpos das duas crianças. Os cadáveres são postos diante de Creonte e de Jasão. Está consumada a tragédia.
Todos cantam “Gota d’água” – até mesmo os atores que representaram os mortos, eu saem do papel para juntar-se ao coro.
Na rubrica final, uma indicação: “ao fundo, a projeção de uma manchete sensacionalista noticiando uma tragédia” – a mesma que o leitor da peça encontra na capa do livro.
“Um pote até aqui de mágoa”, diz a passagem famosa da letra de “Gota d’água”, expressando de modo sintético o âmago do sentimento de Joana/Medeia, a mulher, esposa e mãe e feiticeira, injustiçada a um ponto insuportável, depois de haver dado seu corpo e sua alegria ao amado, depois de haver estancado seu sangue quando fervia. Ela canta, expondo-se e suplicando:
Olha a voz que me resta
Olha a veia que salta
Olha a gota que falta
Pro desfecho da festa
Toda a alegação do sofrimento de Joana vem encarnada no corpo – na voz e na veia – e vira advertência para o que pode acontecer – a gota que falta pro desfecho da medonha festa. E numa estrofe de alta concentração poética: não é apenas a rima exata – resta com festa, salta com falta –, porque é mais: todas as palavras finais acabam com a mesma sílaba, “ta”, como quem dissesse olha, olha, olha, e chega, basta, tá.
É impossível saber o quanto e como cada um dos dois autores contribuiu para o produto que lemos ou vemos encenado, e nem cabe mesmo essa indagação; mas parece seguro deduzir que as virtudes da clareza dramatúrgica vieram mais de Paulo Pontes, enquanto as virtudes poéticas nasceram mais da mão de Chico Buarque, que antes e depois dessa magnífica peça demonstrou as mesmas excelsas virtudes.
As opiniões emitidas pelo autor não expressam necessariamente a posição editorial da Matinal.