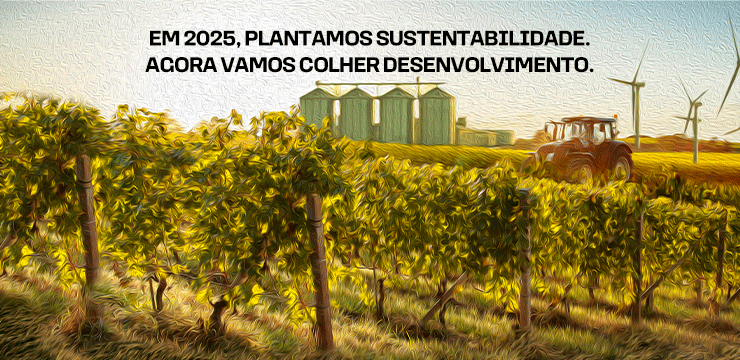Parêntese reproduz aqui uma entrevista feita vinte anos atrás, para uma série que se chamava “Passado Presente”, que o abaixo-firmado produziu e a Zero Hora de então abrigou. Foram quase vinte entrevistas com figuras que naquele momento representavam um laço vivo com muitos passados – e por isso o nome. Olhando à distância de duas décadas, foi uma iniciativa válida, porque, como sempre ocorre, a gente vai morrendo. Dos entrevistados então, já não estão mais aqui Demétrio Ribeiro, Décio Freitas, Lothar Hessel, Helga Piccolo, Paixão Cortes, Zuleika Rosa Guedes, Cláudio Heemann, Sérgio da Costa Franco.
É de supor que, passados vinte anos da entrevista e uma década depois de ela ter parado de trabalhar na mídia, já muitos não saibam dela. Mas gerações acompanharam sua atuação, leram seus textos, aprenderam em seus livros. Uma visada muito poderia achar que se tratava de uma jornalista afeita apenas a trivialidades, já que lidava com moda e comportamento. Errado: Célia lidava sim com isso, levava a sério o acompanhamento desses mundos, mas não os olhava para funcionar como um tribunal de bom gosto.
Vale a pena conhecer sua história, nesta visita ao percurso de sua vida. Uma série de dimensões da experiência feminina nas classes confortáveis de Porto Alegre aparece aqui contada e comentada.
(A versão que aqui se edita é mais detalhada do que a que saiu na Zero Hora daquele momento.)
Luís Augusto Fischer
Porto-alegrense nascida no Centro, oitenta anos atrás, de família que combinava um lado germânico (Krieger) e outro lusobrasileiro (Pinto Ribeiro), Célia Ribeiro é uma figura das mais conhecidas e estimadas em seu meio. Precursora de conquistas feministas em vários aspectos, trabalhou em vários veículos de comunicação, firmando-se como comentarista do mundo convencionadamente chamado de “social”, quer dizer, o mundo dos bem-nascidos. Mas se sua vida mental e social se limitasse a tal dimensão, ela não teria a relevância que de fato tem. Célia é figura presente no mundo cultural, acompanhando a movimentação das artes com grande interesse — não é raro encontrá-la, acompanhada ou mesmo só, no Sarau Elétrico, no Ocidente, ou em concertos da OSPA, para dar dois exemplos mais ou menos extremos. Nem teria escrito os livros que escreveu, que lidam diretamente com etiqueta (e que ela faz com muita competência e abertura de horizontes) mas que vão além dela, como a carinhosa e competente reconstituição da vida de um antepassado seu, Fernando Gomes – um mestre no século XIX (L&PM).
Trabalhou na Revista do Globo e nos jornais A Hora, Diário de Notícias, Correio do Povo e Zero Hora, sempre com muitos leitores, mas atribui o sucesso na carreira ao esforço: “Eu vi tantos colegas tão bem aparelhados intelectualmente mas que não foram reconhecidos, porque não conseguiram ter uma vida profissional satisfatória, e aí penso que na minha vida 80% foi esforço. Esforço, o ambiente em que eu vivia e as relações que eu tive”. Casada por quase cinco décadas com o também jornalista Lauro Schirmer, leitora de biografias, apreciadora de Thomas Mann e Marcel Proust, amiga saudosa de Erico Verissimo e Mafalda, de Carlos Reverbel e Olga, de Maurício Rosemblatt e outras figuras da cultura, Célia cada vez mais mergulha na história, território que frequenta com interesse crescente, seja para pensar em seus antepassados, seja para apontar as diferenças de costume entre as épocas.
Pela entrevista (feita em sua casa por Cláudia Laitano e Luís Augusto Fischer, em maio de 2006) vai se ver que muitas vezes Célia sentiu-se dividida, ao longo da vida, entre uma posição mais convencional e elitista, de um lado, e outra mais ousada e aberta — para gosto de seus leitores e amigos, ela sempre fez a escolha certa.
Família e infância
PARÊNTESE – Onde é que tu nasceste?
Célia Ribeiro – Em Porto Alegre, na rua Coronel Vicente.
P – No tempo que a Coronel Vicente era bem diferente dessa de hoje, não?
CR – Eu não sei porque eu não me lembro. Saí de lá com 2 anos. A casa onde eu me criei é na rua Fernandes Vieira, onde eu vivi dos 2 aos 32 anos. Era uma casa naquele moderno estilo alemão dos anos 1920, muito bonita, com uma história triste. Na casa da Coronel Vicente, morava meu avô Emílio Krieger, que era comerciante na Rua da Praia, com a esposa dele, Ida Gomes Krieger, de São Leopoldo. E meu pai, de uma cultura absolutamente brasileira, neto e bisneto de português, vinha de uma família que morava num casarão imenso, na Duque de Caxias. Viviam todos juntos ali. Meu avô Krieger era um comerciante próspero, um líder, e então o meu pai foi viver lá. O que até agora eu não entendo é como houve aquela aculturação, aquela simbiose das culturas germânica e portuguesa.
P – A tua lembrança é de harmonia?
CR – Completamente! Mas não sei por que nós saímos daquela casa tão confortável. Eu tinha 2 anos quando minha avó materna, Ida, na menopausa, ficou doente mental. E houve um verdadeiro desespero na família. Ela teve que ser retirada de casa; foi para uma chácara na Glória. A coisa foi numa evolução tal, que um belo dia ela fugiu. Foi então que resolveram interná-la num hospital em São Leopoldo. Bom, aí o meu avô, um homem muito certinho, muito sisudo, muito correto, esperava que ela voltasse, e queria que ela voltasse numa outra casa, outro ambiente, numa coisa mais bonita, mais alegre, com jardim, porque ela gostava muito de jardim. Então aí, ele e o tio Paulo, filho dele, foram procurar uma casa e encontraram essa da rua Fernandes Vieira, que tem uma outra história interessante: o construtor a fez para a mulher e para a filha dele, que estavam morando na Europa, com esperança que elas voltassem. Aquela casa teve uma esperança inicial que foi frustrada também, porque a esposa do construtor, um Mayer, nunca mais voltou, separou-se dele, e a filha não quis vir para cá. Da mesma forma, a esperança do Emílio Krieger de que a mulher voltasse para conhecer a casa nunca se realizou. Ela morreu no sanatório, vinte e tantos anos depois.
P – Era uma casa espaçosa.
CR – Era uma casa maravilhosa! Uma casa de dois andares, alegre, com jardim de inverno, um jardim externo maravilhoso, com um lago no meio, com nenúfares. Tinha um caramanchão com plantas raras africanas, porque esse Mayer tinha mania por botânica, e no fundo tinha a casa dos empregados, garagem para dois automóveis. Era uma casa de alemão, e eu tive dessa casa uma nostalgia profunda, quando fui a Munique a primeira vez e, num bairro residencial que não tinha sido atingido pelos bombardeios da guerra, eu vi casas bem parecidas.
P – Na tua infância quem morava nessa casa?
CR – Morava o meu avô Krieger, o filho dele, meu tio Paulo, a minha mãe, e depois o meu pai, Hugo Pinto Ribeiro, que era médico também. E o Roberto, meu irmão, sete anos mais velho que eu. O Roberto foi o mimoso dessa avó, que ele conheceu. Eu tenho uma sensação que me acompanhou vida afora, parece incrível, até agora, uma sensação meio frustrante de que eu não tive as vivências que meu irmão teve na família. Por exemplo, eu não podia entender por que eles foram à Europa, meu pai para fazer pós-graduação de dermatologia, moraram um ano e pouco em Paris, depois seis meses em Viena, e depois vieram embora. Isso foi em 1924. Meu irmão tinha 2 anos, e eu só nasceria em 1929; então eu não podia entender aqueles álbuns de fotografias. Como é que o Roberto estava sempre junto com eles e eu não estava? Eu não podia entender aquilo (risos). Eu acho que esse aspecto da constelação familiar, da posição que tu ocupas numa casa, numa família, e como tu te sentes em função disso, tudo isso é uma coisa muito importante na formação da personalidade. De repente tu te sentes sobrando numa situação em que tu não estás sobrando. Eu tenho a impressão que isso foi uma coisa que sempre me acompanhou, porque ele viu aquilo tudo e eu não.
P – E a tua escola qual foi?
CR – A minha escola foi primeiro o Colégio Sevigné, e depois eu fui para o Bom Conselho. Nós tínhamos um nível de vida muito alto, morávamos com o avô Krieger, que bancava tudo, e meu pai tinha uma clínica muito boa. Só que ele morreu com 47 anos. Então, eu com 11 anos e meu irmão 18, já na faculdade de Medicina, a nossa vida mudou muito.
P – E o dinheiro desse avô vinha de onde?
CR – Ele era alto comerciante, com casa na rua das Andradas, a Casa Krieger. Era uma casa de montarias, de couros, e ele atendia toda a gente que tinha cavalo. Na loja se experimentavam as montarias, e os fazendeiros esses subiam no cavalo, se sentavam, experimentavam.
P – E como era a preparação de uma menina de classe média alta, em Porto Alegre, nos anos 30?
CR – Aprendia-se piano, estudava-se em colégio de freiras, e eu viajava sempre com os pais. Sempre sendo preprada para casar, claro.
P – Casar bem, né?
CR – Não, lá em casa não tinha disso, não. Meu avô começou a trabalhar com 14 anos em Porto Alegre, como contínuo de uma loja, dormindo em cima de sacos, e estudava. Ele veio para Porto Alegre para estudar e porque em casa tava muito difícil, havia muitos irmãos. Ele veio de Cachoeira do Sul. Emílio Pedro Krieger era o nome dele. É uma figura que só agora eu resgatei, dimensionei adequadamente o que ele foi. A minha mãe era muito habilidosa. Então, o fato de ter me dirigido, no jornalismo, aos “frescos e molhados”, digamos assim (risos), às amenidades, foi assim como que uma extensão daquilo que eu fazia em casa: eu bordava, costurava a minha roupa, essas coisas todas. A gente não era grã-fino, não.
P – Qual o teu conceito de grã-fino?
CR – Ah! Viver muito de exterioridades, não pensar nos valores reais da vida, não pensar no futuro. Mas na minha família isso tudo era natural. Por exemplo, eu via colegas minhas, especialmente do Sevigné, que tinham aquela história da família, “da família do Fulano de Tal”! Nós não, nós descendíamos de imigrantes.
P – Esse orgulho patriarcal era mais entre luso-brasileiros?
CR – Mas completamente! O vovô Krieger veio de carreta aos 14 anos lá do interior. O meu irmão brincava com ele, quando o vovô corrigia alguma coisa: “Ah, vovô, pára de falar essas coisas, tu que fugiste de casa aos 14 anos”. E ele dizia: “Eu já disse que eu não fugi de casa! Eu avisei minha mãe que eu vinha!” (Risos) “E ela aprovou que eu viesse.”
P – Mas, de qualquer forma, ele providenciou uma educação boa para a filha.
CR – A família da minha mãe era de alemães de São Leopoldo. Todos trabalhavam! E também as mulheres: uma tia foi fotógrafa, minha vó foi professora, outra foi dentista, a outra foi uma professora fantástica. Hoje me questiono: como é que a minha mãe nunca trabalhou depois que o meu pai morreu, ela que escrevia bem, falava francês? Podia ter sido tradutora, mas ela se acomodou, porque a mãe dela não a criou pra ser o que ela foi. Ela era uma professora aqui em Porto Alegre. Veio de São Leopoldo para tirar o curso da Escola Normal. Elas todas trabalhavam e, na verdade, não tinham tantos preconceitos.
P – E o lado Pinto Ribeiro veio de onde?
CR – Esse lado veio do Porto e de Lisboa. O meu bisavô João Pinto Ribeiro foi gerente da filial do Banco da Província em Rio Pardo. Lá fez a vida dele, constituiu família. E depois veio para Porto Alegre. A família da minha avó, que era Gomes, a do Fernando Gomes, professor, era toda de Porto Alegre. Deste avô também ninguém falava muito na família. Havia um grande retrato daquele velho sisudo na parede, que eu não sabia nem quem era. Na família Pinto Ribeiro, assim como na família alemã, nunca houve ostentação, só que tu sentias naquela casa que eu conheci já decadente, na Duque de Caxias, algo assim. Porcelanas maravilhosas, por exemplo. Eram coisas que lá em casa não tinha. “Oh! Isto aqui é do velho Fernando Gomes”, “da casa do velho Fernando Gomes”. Então, eu entrava lá, tinha um cheiro de mofo aquela casa, enquanto a nossa da Fernandes Vieira era toda ensolarada. E é por isso que eu sou simples, isso ficou em nós, graças a Deus! O meu irmão também, a mesma coisa, do mesmo jeito, esta mesma criação.
P – Lembra alguma coisa do Parque Farroupilha sendo inaugurado, em 35?
CR – Ah, lembro sim! Eu tinha 6 anos. E foi algo que movimentou a vida da família, da minha casa. Meu pai era um homem muito alegre, minha mãe também, e eu me lembro duma noite em que eles foram a um baile, ela botou um vestido marrom, com umas rosas vermelhas, e eu me lembro nitidamente da cena, dos dois bonitos. Eles eram bonitos, arrumados para sair, e eles iam a uma festa que não era de gala, no Parque Farroupilha. Eram apenas 100 anos de distância da Revolução Farroupilha, e pra mim aquilo parecia a Descoberta do Brasil! (Risos) Eu vivia no Parque Farroupilha, meu pai me levava, quando voltava do consultório, de tarde. Era quase no fim do ano, em setembro, e aquilo durou muito tempo. Lembro direitinho do pavilhão do Amazonas, o do Pará, o Cassino. Tinha um bondinho em que me colocavam. Eles iam a muitas festas, mas não dançavam, porque o meu avô Krieger nunca deixou a filha dançar. Meu pai foi um dos grandes bailarinos de Porto Alegre. Ela tinha uma frase sobre isso, um aspecto de que ela era muito orgulhosa: “Eu não sei dançar; mas que adiantava saber dançar se não foi com as gurias com que ele dançava que ele casou? Ele foi casar comigo, que não sabia dançar”.
P – Aquele lado da cidade modificou enormemente, não foi?
CR – Sim, muito. Outra coisa que eu me lembro muito bem é da festa do Espírito Santo. Nós morávamos no alto da Fernandes Vieira, e a gente olhava e via a igreja toda iluminada, e aí vinha a bandeira do Espírito Santo lá em casa. A minha mãe levava aquela bandeira pela casa inteira. E o meu pai ficava furioso… (Risos) Ele não queria que eu beijasse a bandeira porque estava cheia de micróbios. (Risos) Era ele com o argumento científico, e a mãe com a religiosidade da família.
P – E a Segunda Guerra? Tu tiveste alguma experiência complicada por causa da família alemã?
CR – Ah! Aí tem história! Lá em casa havia um lado que puxava para os nazistas, meu avô não, o Krieger não, nem o meu pai, evidentemente, mas gente do lado das tias da minha mãe lá de São Leopoldo achavam que era mentira o que estavam dizendo e tal. Eu me lembro, nós sentados almoçando, em 1943, quando o locutor disse que os russos estavam entrando na Alemanha; a minha mãe começou a chorar, porque ela tinha vivido em Berlim também. Surgiu em Porto Alegre um horror… Uma hostilidade pavorosa. E houve um dia de quebra-quebra na Rua da Praia: todas as lojas que tinham nome alemão foram quebradas. O meu avô chamou o tio Paulo, filho dele, que era médico e trabalhava no consultório em cima da loja, no mesmo prédio, e os dois foram para a porta da loja. Era o quebra-quebra. Na frente estava o famoso Mário Cinco Paus. Quando chegaram lá na frente da loja do meu avô, e o velho junto com o filho na frente; quando eles já iam quebrar a vitrine, meu avô disse: “Aqui não, aqui é a casa de um brasileiro! ” (Risos) Bom, outras casas também não foram quebradas, como a Foernges. E tinha uma casa em Porto Alegre, que eu não vou dizer qual é porque eles ainda são meus amigos, que só aceitava funcionários que falassem alemão e que fossem arianos. Mas aquele quebra-quebra foi uma coisa realmente muito séria.
Juventude
P – E a tua adolescência, os bailes, as festas. E aquele famoso crime…
CR – Eu tinha 10 ou 11 anos, foi no verão, quando um Schmerling matou a Maria Luisa, o famoso crime da Lagoa de Barros. Bom, aquilo foi uma coisa horrorosa, mas a grande discussão das mulheres da família é se ela era virgem ou não era virgem. A virgindade era um grande tema. Meu Deus do céu! Eu tinha uma bicicleta, e um dia caí e me machuquei muito, e aí eu achei que tinha perdido a virgindade… (Risos)
P – E as diversões? Havia baile de debutantes? Assim, no mesmo modelo de hoje em dia?
CR – Mas claro! Mas claro! Só que o meu pai tinha morrido, já fazia 4 anos, e a minha mãe mandou fazer um lindo vestido pra mim… Mas não houve festa, eu não debutei. Eu tinha muitas amigas, que estavam todas debutando, e então eu fui ao baile com um lindo vestido. Eu tinha gênio muito bom, achava que tudo que fizesse estava muito bem. Depois é que eu fiquei mais complicada. (Risos)
P – E esses bailes como eram?
CR – O Clube do Comércio era o máximo! Era o máximo! Aquele salão dos espelhos… Eu comecei a ir aos bailes era 1944, quanto eu fiz 15 anos. Eu ia bastante, com as mães das amigas. Porque a minha mãe não ia. Era um mundo de ricos mesmo, um mundo de… elas não eram “cover girls”, no sentido de hoje, mas elas eram capas da Revista do Globo, que estava no auge naquela época. E tinha umas moças que eram ícones dessa sociedade de Porto Alegre, por exemplo a minha querida, saudosa amiga Neusa Brizola, Neusa Goulart Brizola. Ela era bem mais velha do que eu. Era uma moça avançada para o seu tempo. Eu me lembro do sensacional baile em que estava bem no miolo do Salão dos Espelhos, ela com o Brizola, e de repente estava o comandante Átila, dançando com a Lígia Pavani, que era Miss Porto Alegre, e aí não sei o que houve… O Brizola, que era um galo garnizé — querido, muito amigo Brizola —, de repente cismou que o outro estava olhando pra Neusa, e se foi pra cima do sujeito, e foi um troço, sopapos. (Risos) As gurias, as duas quase enlouquecidas, e eu estava bem pertinho daquilo e nunca mais me esqueci do vestido dela. Era um vestido todo branco, todo bordado, um dos primeiros que a Miriam Steigleder fez aqui.
P – Essas meninas da classe alta eram modernas em termos de comportamento, eram menos atrasadas com os preconceitos da época? Havia diferença entre ser de origem alemã ou não?
CR – Eu acho que as de origem alemã eram muito mais avançadas que as lusobrasileiras. Eu acho, não sei. A gente era criada pra casar, de todo modo, e então, quando todas as amigas tinham namorado e ia ficando noivas, eu também fiquei noiva, com 17 anos. No ano seguinte, seria o casamento. Mas desmanchou-se o noivado. Aquilo foi uma coisa que me marcou profundamente. Meu irmão, que era médico, já se encaminhava para a psicanálise, me dava algumas leituras para fazer. Quando eu tratei casamento não continuei a estudar. Terminei os quatro anos de ginásio e não fui fazer o colégio [o atual Ensino Médio]. Fiquei em casa. Porque ia casar, e aí para que estudar, se depois eu ia casar? Esta era a mentalidade. Eu estava já bordando o enxoval, tudo feito por mim. Ora, o que é que tu achas? (Risos) Bom, aí pifou tudo. Só que eu lia muito. O meu irmão, tudo que lia passava pra mim. Eu fui daquela geração do Cronin. As pessoas da família criticavam que ele me dava todas as leituras.
P – Estava estragando a guria…
CR – E Servidão Humana! A Servidão Humana mexeu com a minha cabeça. Aquela história do ser, da religião, daquela coisa toda, que eu já andava pelas caronas com aquilo… Charles Morgan, tantos autores. Nunca lá em casa houve livros fechados. nunca! O Guy de Maupassant eu li guria ainda, em francês. Dos locais, lembro logo do Érico, a Clarissa, aquelas coisas. Machado não, mas Eça eu li, era a grande paixão do meu pai. E aí, quando se desmanchou o noivado, meu irmão me disse: “Olha, tu tens que estudar”. Eu pensei, e fiz vestibular para Serviço Social, na PUC, que funcionava ali no Rosário. O primeiro ano foi um sucesso. Eu aprendi direito civil, direito penal, aprendi estatística com o Ir. Otão, que era um brilhante professor! Mas quando chegou na hora de fazer a visita às malocas, aí não deu, porque não era pra mim aquilo. E aí eu parei mais dois anos. Fui para o Rio de Janeiro, para a casa das minhas primas.
P – E tu viveste um Rio interessante.
CR – Ah! Maravilhoso! Ficava em casa de parentes, às vezes em Laranjeiras, outras vezes em Copacabana, no Leblon, dependia das parentes. Minha madrinha morava lá, eu fiquei na casa dessa madrinha também. Isso foi em 47 ou 48, eu e minha mãe ficamos uns seis meses no Rio. A gente se arrumava de tarde, botava chapéu, pegava um bonde e ia ao Centro, tomar chá na confeitaria Colombo. Era uma maravilha! As companhias de teatro de revista, na Praça Tiradentes, eu ia ver com a minha mãe.
P – E no Copacabana Palace?
CR – Ah sim, claro! Mas não era muito pro meu bolso, né? Nós íamos pra piqueniques em Niterói. O interessante é que não havia intimidade no grupo, só “pintava um clima”, mas o máximo que acontecia eram uns apertões avançados. (Risos) E depois, como não havia praticamente sexo, eu acho que usavam a dança como substituição, então se apertavam bastante. (Risos)
P – Ah. Esta temporada no Rio foi uma espécie de experiência cosmopolita, não?
CR – Ah, sim, abriu horizontes. Eu não tinha preocupação com o estudo, nenhuma. E então meu irmão, quando eu voltei, veio pra cima de mim: ”Escuta, Célia, o que tu queres da vida? Tu queres ficar morando com a mamãe a vida inteira? É isso que tu queres? Tu vais trabalhar!” Meu irmão foi fantástico! Ele já era casado nesta época. E aí eu me preparei para fazer vestibular para Filosofia. Pensei em Jornalismo, em História e Geografia. Mas no fim eu fui para a Filosofia. Se teve coisa de que eu não me arrependo foi de ter escolhido Filosofia e não Jornalismo. Porque eu acho que me ajudou muito mais. Aí eu fui fazer Filosofia, na UFRGS.
P – Quem eram os professores?
CR – Armando Câmara, que foi minha grande decepção, em aula. Eu assisti à primeira aula do Gerd Bornheim, que tinha voltado havia pouco da Alemanha, onde ele estudou com Heidegger, né? Ele era um bonitão, ele era um cara muito bem posto, era assistente do (Ernani) Fiori na cadeira de Introdução à Filosofia. E a primeira aula que ele deu foi pra nós. Todo o tempo de olhos baixos, com aquele vozeirão. Tremia, tremia, tremia!… Morrendo de timidez, muito distanciado de nós.
P – Que ano era isso?
CR – Eu me formei em 1956. O curso era basicamente de alunas mulheres. O único homem que foi meu colega foi o Leônidas Xousa. Brilhante! Filosofia era o segundo curso dele, que já fazia Direito. A Filosofia foi fundamental pra mim, me despertou muita coisa.
P – O interesse pelo teatro?
CR – Bem, interesse pelo teatro eu sempre tive, porque o meu irmão me levava, assim como a concertos. Por causa disso, certas coisas eu não podia falar com as minhas amigas, porque eu lia coisas que elas não liam, tinha essa coisa de ir ao teatro e à música. E havia pessoas que diziam pra mim que eu não devia ler tanto! Porque isso afugentava os rapazes… (risos) Ah, eu fui professora do Curso Franklin Delano Roosevelt. Porque a Universidade tinha, na Faculdade de Filosofia, esse curso de treinamento de seus alunos que queriam ser professores. E eu fiz um teste pra ser professora de História da Filosofia. E, sei lá por quê, eu falava muito, consegui. E adorei! Adorei! Eu acho que eu tinha uma empatia com os alunos, eu acho que sabia me comunicar.
P – Não o suficiente para tu pensares em ser professora?
CR – Mas eu ia ser professora, até que entrou o teatro na minha vida. Aquela época era assim, se não casar, tinha que ser professora. Já tava sem esperança de casar, né. Já tava com uns 23, 24 anos, por aí.
P – Velhíssima, já.
CR – E, aí, por esse tempo surgiu um curso de teatro na FEUFRGS, Federação de Estudantes da Universidade do Rio Grande do Sul, não sei bem. Aí, foi uma grande história da minha vida. Aí, eu participei da encenação da peça Nossa Cidade, do Thornton Wilder. É uma peça sobre o cotidiano, muito avançada. Ela tinha sido encenada pelo Tablado, no Rio de Janeiro, com grande sucesso. E o Carlos Alberto Murtinho, que era um jovem diretor premiado do Rio de Janeiro, veio para Porto Alegre encenar este espetáculo. E foi um sucesso! É uma peça do teatro moderno, não tinha cenário, a gente trabalhava só com mímica. Eu fazia o papel de uma mulher que adorava casamentos — e eu nunca me casei… (Risos) Não vai dizer isso aí, porque sou uma senhora há 44 anos. Pelo amor de Deus! Eu casei no Uruguai.
P – “Casei no Uruguai” é muito bom.
CR – Sim, porque eu era solteira mas ele era desquitado, não havia divórcio aqui. Bom, essa peça teve uma influência muito grande em mim, eu gostei deste lado performático, de se apresentar em palco, de ouvir aplauso. Tinha muita morte naquela peça, e eu tive uma adolescência muito cheia de mortes; em primeiro lugar, o meu pai, depois foi o meu tio, irmão dele, de quem eu gostava muito. E, outra grande perda foi uma tia, que eu tinha paixão por ela, que foi uma pessoa maravilhosa para mim e morreu aos 41 anos. Então, talvez, esse negativismo que eu tenho seja resultante de as perdas terem acontecido tão cedo. Eu chorava muito nos ensaios. Houve um catarse. Essa peça mudou a minha vida, porque aí eu fui encenar com o Silva Ferreira, que era um diretor de teatro, que era o colunista de teatro do jornal A Hora. Ele saiu, e eu fui me candidatar a colunista de teatro. Tá vendo? Eu era corajosa, porque eu não tinha a mínima condição, não tinha leitura teatral nenhuma, não tinha!
P – Mas fazia Filosofia.
CR – Sim, mas primeiro eu fui datilógrafa. Sim, no serviço público estadual. Porque quando o meu irmão fechou o cerco comigo para estudar e trabalhar, eu fui ser datilógrafa, só que eu era tão ruim que resolveram me botar de revisora. Aí, como todos os dias de manhã eu chegava na repartição e contava coisas muito engraçadas, do que eu tinha visto na véspera, elas iam me deixando. Foram uns amores comigo, né? E entrei em A Hora só pra fazer uma coluna de teatro. Foi quando eu parei de usar Pinto Ribeiro como sobrenome. Eu botei “Célia Ribeiro”, porque a minha mãe tinha vergonha que eu trabalhasse em jornal. Foi um conflito. Repara bem, tem uma luta dentro de mim que persiste até agora, nessa fase da vida. Eu tô sempre em luta dentro de mim: eu acho que não devo fazer uma coisa, mas eu quero fazer a coisa, aí eu vou e faço.
P – Porque tu não estarias à altura do desafio?
CR – É isso, por causa da guriazinha aquela que não foi para a Europa junto, que nunca aparecia nos retratos junto com os pais. (Sorrisos) Vê como uma coisa dessas marca a vida de uma pessoa. E vejo que foi fundamental para mim, além da orientação de vida que o meu irmão me deu, a psicanálise.
P – Teu irmão era psiquiatra e psicanalista.
CR – Sim, e ele viu que eu tinha uma série de problemas e tal, e figura daquela avó de que eu falei pra vocês. Eu tinha muito medo de enlouquecer. Porque achava, sei lá… E foram dez anos de análise, dos 25 aos 35. Aí, eu me casei. No Uruguai. (risos) De modo que nessa época eu vivi um conflito interno muito grande com a minha educação, que era educação pra casar, coisa assim de menina, educada muito convencionalmente, e do outro lado a vida dos meus companheiros de teatro, que era uma vida até tarde da noite, de boemia. E uma coisa interessante que aconteceu foi que a minha mãe se enamorou pelo teatro. Ela ia assistir aos ensaios, depois até ia para o Bar Atlântida, lá do edifício Dom Feliciano, onde a gente se encontrava. Ela não teve coragem de fazer as coisas, mas ela também queria; eu acho que esta força, se é que eu tenho alguma, isso era dela, só que ela, por ser de outra época, não conseguia superar os seus conflitos. E eu não era filha do Emílio Pedro Krieger, ela era, né?
O Jornalismo
P – E como entra o colunismo chamado de “social” na tua vida?
CR – Foi na Hora também. A coluna se chamava Desfile. Mas não era trabalho na redação do jornal, eu fazia em casa e mandava. Era uma colaboração, descrevendo vestidos de festa, coisas assim, mas já ganhava. Só que na redação havia uma mulher, a Gilda Marinho. Eu chegava no jornal três e meia, quatro horas, quando levava a minha coluna, e eu me lembro da Gilda Marinho prontinha para ir para os chás, de chapéu na cabeça, dedilhando a máquina de escrever. E eu tinha uma inveja dela porque ela podia fazer tudo que queria. (Risos) E ela era aceita por todo mundo, sabe?
P – Era uma mulher livre?
CR – Uma mulher livre, exatamente. E por que que ela era livre? Ela não era só pela função que ela exercia, de jornalista, cobrindo coluna social. É claro, as pessoas queriam sair na coluna dela. Ela era livre também pela cultura que ela tinha. Pela inteligência. Por ter traduzido livros, por ter criado uma enciclopédia para a Editora Globo. E aquilo me chamava muito a atenção. Que uma pessoa pudesse passar por cima de tudo… Não é bem assim que eu queria dizer. Que uma pessoa fosse livre em função de valores superiores às exterioridades que ela descrevia na coluna dela, exterioridades que davam o pão de cada dia a ela – porque ela escrevia sobre exterioridades, né? E outra dimensão: ela tinha um português maravilhoso. Eu tinha uma inveja dela. Não que eu quisesse ser como ela, o que não era o caso: eu ainda queria casar! Eu acho que, sei lá, eu gosto muito da coisa de casa, e naquela minha época só se imaginava uma mulher numa casa, tendo marido junto. Uma mulher recebia se ela tivesse marido, senão não.. Entendeu como é que é? Era esse pavor da solteirice.
P – A tua geração é a última a ficar adulta antes dos anos 60, antes do feminismo. Como é que chegou a notícia do feminismo? Quando começou a chegar a notícia de que já tinha gente pensando sobre isso, escrevendo sobre isso? Quer dizer, quando é que se teve notícia de Simone de Beauvoir?
CR – Eu li Simone de Beauvoir. Eu achava o máximo. Claro que havia muita besteira na época, aquela história de queimar os sutiãs, uma bobajada. E vou te contar, eu achava que não precisava daquilo, porque eu consegui fazer a minha carreira no jornal numa época em que não havia mulher no jornal. Se bem que talvez, pensando agora, eu deva dizer que consegui fazer a minha carreira sem entrar nos assuntos tradicionalmente masculinos, nos setores, nas editorias masculinas. Eu falava em tricô, em moda, em bordado, entrevistava senhoras chiques da sociedade aí, entrava em tudo que era casa. De todo modo, eu nunca senti preconceito em relação ao fato de eu ser mulher. Nunca. E olha que eu trabalhei na redação mesmo: enquanto a minha mãe estava com os preconceitos em casa, eu trabalhava no jornal e chegava em casa de madrugada, porque eu fui para o jornal e quando eu vi eu estava sendo diagramadora, eu peguei em tudo! Eu me lembro, que lá na Hora, lá na rua São Pedro, a gente conseguia ainda ver o morro Ricaldone. Eu via amanhecer no morro Ricaldone diagramando. Eu ia pra oficina de noite, na época do chumbo, eu ia pra oficina com as minhas unhas compridas, mexendo no texto, arrumando o texto com aqueles bloquinhos de chumbo. Então essa formação, inclusive de cozinha de jornal, isso foi muito importante, e por isso que eu nunca fui vedete de televisão. eu sempre fui uma jornalista.
P – A televisão nesse momento está começando aqui, não é?
CR – Para mim, a televisão saiu da coluna do jornal, quando fui contratada para fazer um programa chamado “Desfile na TV”, com o nome da coluna de A Hora. Isso foi em 58, logo quando inaugura a tevê. Eu ficava muito chateada, meio insegura, porque eu tenho dentes separados. Falar eu sabia que eu falava direitinho, mas, não sei. E era tudo ao vivo, não tinha essa de gravar para ir acertando. E aí sim comecei a ganhar muito bem e a me realizar também, tanto que permaneci por muitos anos, até uns vinte e poucos anos atrás. E foi por ali que eu comecei a me dedicar à etiqueta, porque era um assunto que eu comentava frequentemente e por isso comecei a ser convidada para dar cursos e para escrever. O primeiro curso para debutantes quem fez foi a Gilda Marinho, para a Casa das Sedas, uma tradicional loja de tecidos; eu já fiz uma curso diferente: era um curso com os conhecimentos que eu tinha inclusive de dar aula, com um programa e tudo. e sei lá. Trabalhei 18 anos com debutantes. Até o dia que vi que não cabia mais, não podia ser mais daquele jeito, então eu saí.
P — E começa a tua carreira como autora de livros.
CR – Começou com a reedição das Receitas de Iaiá Ribeiro. Ela era a mãe do meu pai, e o livro saiu em 1934, pela Globo. Na verdade, meu pai e minha mãe escreveram o livro pra ela, na nossa chácara de Canoas, quando ela ficou cega com 68 anos. Papai ficou com pena da mãe cega, que vivia ditando receitas por telefone, e fizeram o livro. Quando ela morreu, a minha mãe quis que o livro ficasse pra mim. Aí eu fui pedir pro Ivan Pinheiro Machado a reedição do livro. A L&PM estava entrando nessa parte sobre boas maneiras, comportamento, e bem quando eu fui lá para reeditar o livro da Iaiá Ribeiro, ele topou e, quando eu fui agradecer — a edição esgotou em 2 meses — ele me disse: “Agora tu vai escrever um livro de etiqueta!” Eu disse “Mas tu tá maluco!”; e ele “Como maluco?! Se passaram pela tua mão centenas de debutantes, como é que não vai fazer um livro de etiqueta?!”. Daí surgiu o Etiqueta na Prática.
P – E depois vieram os outros.
CR – Se não fossem esses livros, eu já tinha terminado profissionalmente, já tinha acabado o jornalismo, já teria acabado tudo! É verdade: eles me deram uma injeção de ânimo. Sou muito grata ao Ivan e ao Lima.
P – O gaúcho é grosso? É rude?
CR – Sim. Tu notas isso no povo. Quando se vai ao Rio, se nota isso já nos motoristas de táxi, nos garçons. O garçom gaúcho não olha pra tua cara, com raras exceções, e também não olha em volta, parece que ele é o dono da festa: ele fica caminhando, não olha pros lados, não vê se o cliente quer alguma coisa. Ele passa com aquela bandeja tem ali uma pessoa que está de olho na bandeja, mas ele não olha. Tem uma coisa que eu sempre menciono nos livros, que é civilidade. Essa é a questão. Agora, eu tenho muito orgulho de ser gaúcha! Uma vez nós fomos a Portugal, em 1968, e fomos à feira de Santarém; lá estava o Paixão Cortes com o grupo dele. E lá pelas tantas eles começaram a cantar o “Pezinho” e não sei mais o quê, e eu chorava, chorava. Eu tenho muito orgulho do jeito que nós somos: rudes, mas também francos, profundos, corajosos, e eu acho isso fantástico.