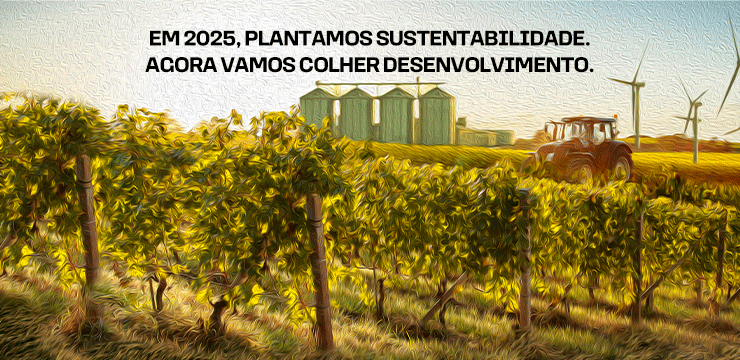+ Texto da série 'O Diário Mongol'
Este texto faz parte da série de artigos que o colaborador Alfredo Fedrizzi produziu para a revista Parêntese. Confira os demais textos:
2) Vivendo como um nômade no país do céu azul
Há uma questão fascinante entre como as nações se definem e como o mundo as percebe. Os mongóis se autodenominam “o país do céu azul”, alegando ter 250 dias de sol por ano. Há algo profundamente revelador nessa autodefinição – em vez de se definirem por recursos naturais, PIB ou poder militar, escolhem uma metáfora poética que enfatiza clareza e abertura. É uma forma de identidade nacional que prioriza qualidade de vida e conexão com o ambiente natural sobre métricas convencionais de sucesso nacional.
Esta filosofia se manifesta de maneiras surpreendentes quando se observa a vida cotidiana mongol. Não é só em Ulaan Baatar, a capital da Mongólia, que a tradição e modernidade não apenas coexistem – elas se entrelaçam de maneiras que desafiam nossas categorias ocidentais convencionais. São dois estilos de vida, diferentes, mas conectados. A vida urbana acompanha o resto do mundo: tecnologia, prédios, trânsito intenso, jovens ocidentalizados. Já o interior é povoado pelos nômades com seu estilo de vida pacífico. Na capital, famílias inteiras, vestidas em trajes tradicionais, posam para fotos de casamento em frente ao Parlamento, transformando o símbolo da democracia moderna em pano de fundo para rituais ancestrais. É uma imagem que captura algo essencial sobre como sociedades podem honrar seu passado enquanto abraçam futuros incertos.

A Arquitetura da Adaptação
A própria arquitetura de Ulaan Baatar conta uma história em camadas: edifícios soviéticos da era comunista (1924-1990) convivem com construções tradicionais mongóis e arranha-céus modernos. Cada estrato arquitetônico representa não apenas um período histórico, mas uma escolha civilizacional diferente. Cada era deixou sua marca na cidade, sem apagar completamente as anteriores.
Esta capacidade de adaptação se revela em detalhes aparentemente mundanos mas profundamente reveladores. O trânsito da cidade é um estudo fascinante em pragmatismo cultural: carros com direção do lado direito circulam ao lado de veículos com direção do lado esquerdo, criando uma espécie de democracia automotiva que, de alguma forma, funciona. A maioria dos carros são Prius híbridos importados usados do Japão, por preços baixos (entre US$3.000 e US$10.000), uma escolha que reflete tanto considerações econômicas quanto crescente consciência ambiental.
Mais intrigante ainda é como qualquer carro pode se tornar táxi instantaneamente – basta levantar a mão na rua e um motorista comum para, vê pelo celular quantos quilômetros foram percorridos e cobra. É uma economia compartilhada orgânica que surgiu naturalmente, sem regulamentação complexa ou plataformas corporativas dominantes.
A questão linguística oferece outro exemplo dessa adaptabilidade cultural. A Mongólia atualmente usa dois sistemas de escrita: o alfabeto cirílico (herança do período soviético) e o alfabeto tradicional mongol de origem uigur, que está sendo gradualmente reintroduzido. Esta não é apenas uma questão técnica, mas uma negociação complexa entre identidade cultural e pragmatismo político, uma forma de reconectar-se com raízes pré-soviéticas sem rejeitar completamente a herança do século XX.
Lições das Estepes
Compreender um país requer ir além de suas capitais cosmopolitas. Juntei-me a um grupo internacional – uma pequena amostra da comunidade global que a Mongólia atrai – para uma jornada de 2.200 quilômetros através de paisagens que desafiam nossas noções urbanas de espaço e tempo.
As estradas mongóis oferecem uma lição prática sobre os desafios do desenvolvimento em países de baixa densidade populacional. As estradas asfaltadas, verdadeiros tobogãs, eram tão desafiadoras como as de terra, uma situação que os locais explicavam com uma palavra: corrupção. Esta honestidade direta sobre problemas de governança é, em si, um sinal de saúde democrática. Em muitas sociedades, tais admissões seriam tabu; aqui, são simplesmente fatos aceitos que informam expectativas realistas.
Mas as paisagens compensam amplamente as dificuldades logísticas. Lagos que parecem pintados por um impressionista divino, monastérios budistas que emergem da vastidão como âncoras espirituais, crateras vulcânicas que contam histórias geológicas de milhões de anos, planícies tão vastas que redefinem nossa compreensão de infinito e os gers – habitações circulares dos nômades – , como pérolas brancas na estepe. Estas paisagens não são apenas belas, elas são formativas, moldando uma mentalidade que valoriza paciência, resistência e perspectiva de longo prazo.
A Tecnologia Social dos Nômades
A hospitalidade nômade e sua generosidade são famosos. Eles têm um estilo de vida que depende do apoio mútuo. Uma espécie de lei não escrita que diz que “se você não oferecer ajuda hoje, quem garante que você receberá ajuda amanhã?” Para eles não existe pressão de tempo e espaço. Tratam tudo com paciência e seriedade.
Esse espírito faz com que recebam de braços abertos qualquer pessoa, mesmo desconhecidos, para dormir e se alimentar em suas casas. E oferecem tudo o que podem e têm. Presenciei isso quando a Helen, uma australiana do nosso grupo, ganhou de uma senhora nômade um lindo vestido todo bordado, que ela mesma tinha feito. A Helen não sabia o que fazer e começou a chorar. O que ofereço em retribuição? A senhora não queria nada em troca.
A experiência de dormir em gers ofereceu insights sobre formas alternativas de organização social. Estas estruturas portáteis e eficientes representam uma tradição de mais de 2.000 de inovação arquitetônica adaptada a um estilo de vida móvel. A Unesco as reconheceu como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, mas elas são mais que artefatos históricos, são tecnologias sociais vivas que continuam a informar como os mongóis pensam sobre comunidade, privacidade e relação com o ambiente. No inverno, ficam mais quietos. Mas no verão, passeiam por outros lugares, em busca de melhores pastagens para seus animais, e levam sua casa consigo. Desmontam tudo em uma hora, deixam tudo limpo (quase não deixam resíduos), para remontar, em uma hora, o seu ger muitos quilômetros adiante. Esses abrigos tem paredes de treliça e telhado de feltro, coberto de lona branca. Dentro, camas, poucos móveis e um fogão no centro, que serve para cozinhar e aquecer no inverno.
Tivemos a oportunidade de ficar com famílias nômades reais, uma experiência que revelou como tradições antigas coexistem com realidades modernas. Estas famílias usam telefones celulares que ajudam a se conectar com parentes e amigos que estão na cidade e a coordenar o movimento de rebanhos. Em todas as casas, o “morin khuur”, violino de duas cordas e com uma cabeça de cavalo esculpida, não pode faltar. Tem duas cordas feitas de crina de cavalo e é tocado com um arco, A música serve para espantar os maus espíritos. Conseguem tirar sons da garganta difíceis de acreditar. E os ritmos, muitas vezes, lembram o galopar de cavalos.
Pelas estradas mongóis, animais circulam livremente. Ovelhas, cabras, cavalos selvagens, camelos e yaks movem-se sem cercas. No final do dia, pastores os recolhem usando métodos tradicionais (a pé ou a cavalo) e modernos (motocicletas). É uma metáfora perfeita para como a Mongólia aborda a modernização: abraçando novas ferramentas sem abandonar práticas milenares.
Uma Filosofia de Vida Alternativa
Conversei com Bhazanjargal, um artista e empreendedor mongol. Ele articula uma filosofia que desafia premissas ocidentais sobre progresso e felicidade. “Somos bravos, honestos, tolerantes e adaptativos”, explica, descrevendo valores culturais forjados por séculos de vida nômade. “Nosso cérebro funciona livre” – uma observação que sugere como diferentes ambientes culturais moldam formas fundamentais de pensar. Para ele, o nomadismo representa mais que estratégia de sobrevivência; é filosofia de vida consciente. “Viver como um nômade expande sua vida feliz”, argumenta. “Significa que estamos vivendo em minimalismo, a maneira mais ecológica de viver na natureza.” Esta não é uma romantização nostálgica, mas uma crítica sofisticada aos excessos da modernidade. O que emerge desta conversa é uma compreensão do nomadismo como antídoto para males contemporâneos. A hospitalidade mongol, onde “cada pessoa te acolhe em casa”, contrasta com o individualismo urbano moderno.
A sustentabilidade não é conceito abstrato, mas prática vivida, segundo o artista mongol: “Os animais crescem livremente na natureza, o que significa que a carne é mais saudável e saborosa. Sua maior preocupação é com a transmissão cultural. “Se nossos filhos perceberem que é bom viver como nômade, eles continuarão a viver dessa maneira.” Esta não é uma preservação museológica, mas a adaptação consciente de valores tradicionais para desafios contemporâneos.
A dieta mongol, baseada em carne e laticínios de múltiplas espécies (gado, ovelha, yak, cavalo, camelo, marmota) pode parecer exótica, mas representa a adaptação sofisticada a um ambiente desafiador. Mais importante, representa a sustentabilidade que não depende de cadeias de suprimento globais complexas. Em uma era de crescente preocupação com segurança alimentar e mudanças climáticas, há lições importantes nessas práticas tradicionais.
A Mongólia oferece um modelo alternativo de como sociedades podem equilibrar tradição e modernidade. Em uma época de polarização política e perda de identidade cultural, demonstra que é possível manter coesão social mesmo em circunstâncias desafiadoras. A experiência mongol sugere que a chave para a resiliência pode estar não apenas em instituições formais, mas na capacidade cultural de adaptação e na manutenção de conexões com tradições que fornecem estabilidade emocional.
Na próxima semana, vou explorar a figura de Gengis Khan, como seu legado continua a informar a identidade nacional mongol e o que ele deixou para todos nós, examinando como sociedades podem honrar figuras históricas complexas e fortalecer a coesão nacional. É uma questão que ressoa muito além das fronteiras mongóis, tocando em debates contemporâneos sobre memória histórica e identidade nacional.